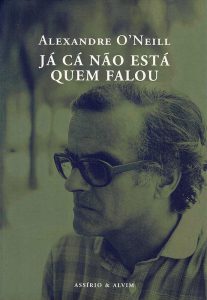Crónicas / Já cá não está quem falou / As «duzentas mulheres» de Miguel Torga
As «duzentas mulheres» de Miguel Torga
Dos poemas que gostaram de mim, poemas em cuja criação, através da leitura, participei e continuo a participar como se deles autor também fora, só uns quantos têm aquele carácter de obra acabada, mas nunca encerrada, e aquele cunho de resposta pronta a um apelo urgente que nos levam a dizer – como eu disse, uma vez, ao sorridente cepticismo de Melo Neto, a propósito de O Cão sem Plumas – que há poemas que não podiam deixar de ter sido feitos, ao passo que outros podiam tê-lo sido ou não. Não estão em nada envolvidas, aqui, destreza técnica e perfeição de fabrico, que só caso a caso — a partir de um certo nível de qualidade, evidentemente – acabados que foram, há muito, os poetas canónicos, se pode saber o que sejam. Dos poemas a que aludo, alguns são (ou parecem) canhestros, à face de critérios de mera eficácia de comunicação. (E como se poderá legislar, em poesia, sobre a eficácia da comunicação?) Todavia, o carácter de absoluta necessidade que revestem faz deles poemas únicos nas obras dos poetas que os criaram. Ao acaso, penso na Recordação da Noite de 4 de Agosto de Victor Hugo; penso no Buffalo Bill de Cummings; no Animal Olhar, de Ramos Rosa; no Cemitério Marítimo, de Valéry; no Romance da Guarda Civil, de Lorca; na Liberdade, de Paul Éluard; no Mataram a Tuna, de Manuel da Fonseca; na Primeira Elegia de Duíno, de Rilke; no Cristalizações, de Cesário; no soneto de Cecco Angiolieri que aparece nas antologias sob o título de Niilismo; no já citado O Cão sem Plumas, de Melo Neto; no poema treni i treni, do concretista Carlo Belloli; no poema concretista Snow is…, de Eugen Gomringer; em Os Gaúchos, de Jorge Luis Borges; em quase todo o Rimbaud; em boa parte do Verlaine; no poema Olinda e Alzira, de Bocage; em Os Doze, de Alexandre Blok; em A Carroça Vermelha, de W.C. WiIliams; em O Sol é grande…, de Sá de Miranda; em A Flauta de Vértebras, de Maiakovski; em Um Fantasma de Nuvens, de Apollinaire; em Dora Markus, de Montale; em certos epitáfios da Antologia Palatina; em muitos dos poemas do Brecht; em Lamentação para Um Órgão da Nova Barbaria, de Aragon; no poema De Infância, de Géo Norge; na Balada dos Enforcados, de Villon; no soneto A Uma Caveira, de Lope de Vega; em A Caça ao Snark, de Carroll; em O Pastor Morto, de Nemésio; em As Elegias de Bierville, do catalão Carles Riba; em Na Estrada de San Romano, de Breton; na Maçã, de Manuel Bandeira; na Canção de Amor de Alfred Prufrock, do Eliot; na cantiga de amigo de Mendinho Estava Eu na Ermida de S. Simeão; no Canto sobre Mim Próprio, de Whitman; na Europa, de Casais Monteiro; em Sacos e Caixas, de Sandburg; no Propos de Alain, que é um perfeito poema, intitulado O Molhe de Dieppe; em Eu não Sou Ninguém! Tu Quem És?, de Emily Dickinson; no Assassinato de Simonetta Vespucci, da Sophia; na Elegia do Amor, de Teixeira de Pascoaes; em O Bailador de Fandango, de Pedro Homem de Mello; no Proto-poema da Serra de Arga, de António Pedro; nos ai-curtos, do meu caro António Reis; em A Mulher de Luto, de Gomes Leal; em Numa Estação de Metro, de Pound…
Dentre esses poemas, em relação aos quais se tem a impressão de que não podiam deixar de ter sido escritos, poemas que aos murros bateram – necessidade e urgência – às portas dos poetas seus autores, conto, como um dos meus predilectos, o poema Lezíria, de Miguel Torga. É um objecto mágico que há mais de trinta anos me acompanha – e devo dizer, com toda a franqueza, que da poesia portuguesa de hoje poucos são os talismãs que trago comigo. Gostava de vos fazer testemunhas e fruidores dos poderes de um tal objecto, mas não sou exegeta, porque não posso e, se pudesse, já não quereria. A exegese literária, hoje, é um trabalho científico que não se compadece com a passarinheira palpitação dos amadores. Apesar de tudo, gostava de vos falar desse meu talismã, a Lezíria, antes de vo-lo transcrever no final desta crónica. Transformado na coisa amada, sempre posso, como amador, falar da coisa em mim consubstanciada, falar de mim por mim. Posso?
Na distância, que começa por ser uma distância fisicamente espacial, a que o Poeta se situa das duzentas mulheres que mondam, reside, para mim, a principal linha de força desse extraordinário poema. A avaliação do número de mulheres que trabalham ali, naquele momento – duzentas – é uma avaliação por alto, mas de quem está habituado a olhar e a ler o campo e sabe o número de componentes que um rancho de mondadeiras mais ou menos pode ter. Por outro lado, «duzentas» não é substituível por «muitas». «Muitas» diria eu, que não sei ler o campo. «Duzentas», sendo uma avaliação por alto, é, seguramente, bastante certeira. «Duzentas» não surge por acaso. Pouco provável, também, que tenha sido por informação prévia. «Duzentas mulheres» ganha, assim, corpo e presença concretos. De qualquer modo, a distância fica desde logo marcada pela olhadela englobante do observador. E acentua-se a seguir: «Cantam não sei que mágoa / Que se debruça e já nem mostra o rosto». E aqui, a distância, de meramente espacial, começa a passar a distância humana, «cultural»: «… não sei que mágoa». Claro que Torga, embora não distinguindo, à distância, as palavras do canto, sabe muito bem que mágoa cantam as mondadeiras, mas, por uma operação de subtil (e amarga) ironia, toma deliberadamente outra distância em relação a essa mágoa, situando-se como o espectador que na realidade é. E fica, assim, criada uma tensão intolerável que impecavelmente levará o poema ao seu desfecho, no qual é reiterada, de maneira magistral, a irremediável distância que só a simpatia pode tentar vencer: «Cantam baixo, e parece / Que na raiz humana dos seus pés / Qualquer coisa apodrece».
«Parece…», «Qualquer coisa…» – elementos marcadores de ainda maior distância, até à diluição da tensão nesse terrível distanciamento, nessa separação final contida no definitivo «… apodrece».
A charneira entre o que podemos considerar, grosso modo, o enquadramento expositivo deste breve poema e a sua resolução dramática, é um verso que, como um nó, liga destinos assaz diversos a um comum destino: «Cantam o Norte e o Sul duma só vez», verso no qual parece reflectir-se a cruel realidade do mercado do trabalho braçal no nosso país: ir buscar mão-de-obra – neste caso para o Ribatejo – aonde ela for mais barata. E toca a migrar sazonalmente…
A dicotomia espectador-agente, que Torga não enjeita e que constitui, até, um dos motores da sua criação, é vivida, neste poema, de forma exemplar, por um homem que, embora dilacerado, soberanamente se recusa à facilidade ditirâmbica ou ao frustre sentimentalismo.
E era este, por ocasião das homenagens ao Poeta, o pequeno objecto mágico torguiano que eu vos queria mostrar e que, sem mais extractações, aqui deixo transcrito:
LEZÍRIA
São duzentas mulheres. Cantam não sei que mágoa
Que se debruça e já nem mostra o rosto.
Cantam, plantadas n’água,
Ao sol e à monda neste mês de Agosto.
Cantam o Norte e o Sul duma só vez,
Cantam baixo, e parece
Que na raiz humana dos seus pés
Qualquer coisa apodrece.
«As “duzentas mulheres” de Miguel Torga»: A Luta, coluna «A Comarca», 4 de Novembro de 1976.
Ler também: